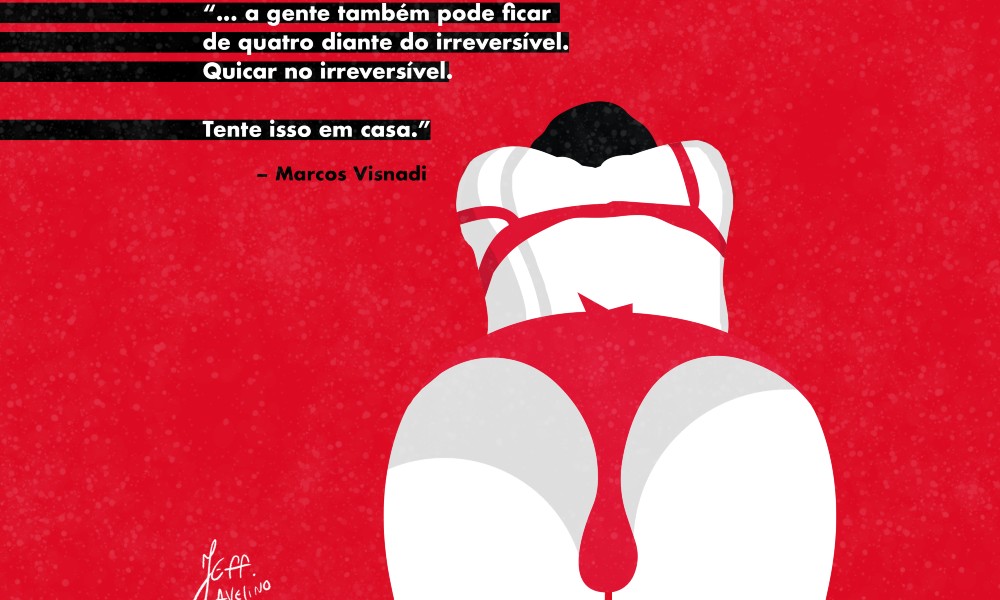Por Marcos Visnadi
Faz quase dez anos que, num exame de rotina, o técnico do laboratório gaguejou pra me dizer que o HIV tinha vindo positivo. Peguei o trem, fui pro postinho especializado em IST e aids, refiz o exame e ganhei um abraço e muitos panfletos da médica que confirmou o diagnóstico. Saí pra rua pensando: vixe…
Na época eu levava uma vida nômade, no limite do andarilho, e flertava bastante com a morte, apesar de sempre usar camisinha. Fui pro apartamento da minha amiga, onde estava hospedado por um tempo, e contei a notícia pra ela de um jeito muito sóbrio. Sempre fui uma bicha bem informada (tanto quanto uma bicha pode se informar) sobre o HIV. Então ficava apelando pro lado racional: tá tudo certo, tá tudo bem, não é o fim domundo, longe disso. Era 2012! Mas ainda assim eu não podia mais flertar com a morte –porque agora corria o risco real de encontrar ela, de acordar dolorido e morto de repente, a morte guardando o pau na cueca e indo buscar a bicha seguinte pra currar. Agora a brincadeira tinha ficado séria e eu precisava querer viver.
Ganhei outro abraço da minha amiga e entrei na internet pra buscar o que era ter HIV em 2012. Eu tinha amigos soropositivos, mas achava eles todos muito complexados com essa história que eu sabia não ser grande coisa, nada digno de angústias. Era um trauma coletivo, talvez. Mas com os remédios certos, uma vida regrada e a cabeça no lugar eu ia viver por muito tempo, talvez pra sempre, então a aids não era mais um problema.
Quando, em 2013, montamos o coletivo que faria a revista Geni – uma publicação mensal e independente que falasse de gênero e sexualidade de um jeito atual e honesto, algo inexistente nos meios de comunicação naquele começo de década –, busquei muito alguém que topasse assinar uma coluna mensal sobre HIV. Eu mesmo não queria escrever, já tinha assumido tarefas demais e não achava que tivesse o que falar, principalmente porque fui desistindo de ser uma bicha bem informada e me interessando cada vez mais pelo avesso da informação, os silêncios e as dúvidas que fazem parte da nossa vida e que também podem, de algum jeito, ser comunicados. Nos últimos anos, principalmente depois do fim da Geni, meu negócio é a poesia.
Mas não teve jeito. Teve gente que topou escrever, desde que a coluna fosse anônima ou com pseudônimo. Isso estava fora de questão, porque (eu e meu HIV achávamos) a revista não podia servir para reforçar o estigma. Na época havia blogues e espaços em alguns sites escritos por gente soropositiva, mas era todo mundo anônimo. Eu entendia o medo, mas não concordava. Sou descomplexado, lembram? A gente também chegou a oferecer o espaço da revista pra um infectologista, mas não queríamos um discurso médico careta normativo. Então tocou à bicha que vos escreve a tarefa corajosa (como muita gente disse na época) de sair desse segundo armário – o de comprimidos – e falar da aids no século 21 em primeira pessoa.
Corajosa e descomplexada, muito prazer. Não vou cuspir nos rótulos que me comem, mas vou dizer o seguinte: com o tempo eles descascam, principalmente quando a gente deixa de usá-los. O próprio rótulo de “pessoa vivendo com HIV” ou, pior, “positHIVa” (argh!) é útil de vez em quando, tá ali no lombo, exposto, pode comer, mas eu, euzinha, por vontade própria, prefiro me ocupar com outras coisas. Com o tempo, fui descobrindo que posso não ter aids como doença, mas tenho como palavra – e também como complexo. Temos todes.
Quase todes. A Casa 1 está republicando, agora, os textos da coluna Tuttomondo, assinada por mim na revista Geni entre 2013 e 2015. Fiquei surpreso de se interessarem por essas crônicas que me parecem tão passadas, tá passada? Mas vira e mexe sei (fofoca) de alguém que tem HIV e é supercomplexada com isso, tem vergonha e não sai do armário de jeito nenhum. Amiga, te entendo. Queria poder tirar o fardo das suas costas com um abraço e uma mamada, mas infelizmente essa vergonha, essa dor, esse medo às vezes não passam nunca, às vezes passam amanhã. São intransferíveis, pessoais e coletivos. Pioram muito quando alguém sequer olha torto para o SUS, que é a única coisa que nos mantém vives. Não, não é a única coisa. Mas defendam o SUS, por favor, senão eu morro.
O nome da coluna era inspirado no último job do Keith Haring antes de ele morrer de aids em 1990: um mural numa igrejinha italiana, provavelmente inspirado no próprio ideal católico (no que ele pode ter de bom). Em grego, katholikós quer dizer “universal”. “Todomundo”, de certa forma. As figuras coloridas, bobas, mutantes, dançantes e deformadas do Keith Haring pertencem à parte boa do mundo. A parte ruim é a que cria o inferno e nos coloca dentro dele. Pelo menos 500 mil pessoas já morreram de covid-19 no Brasil e tem gente feliz com isso, dando risada, querendo mais mortes. Deus me livre.
Amiga, amigo, amigue: tenha seu medo, cultive, se esconda e se mostre onde precisar e onde conseguir. Coragem é uma coisa que a gente vai alcançando com tentativa e erro. Use máscara, faça o teste de HIV, pratique distanciamento social, se proteja, jogue todos os conselhos no lixo. Isto é um conselho de quem te quer bem. Muita gente te quer mal. Talvez sejam as mesmas pessoas. Não sei. Enquanto isso, pelo menos, você está lendo este texto e isso é uma forma de comunicação, um jeito de estar junto. Talvez tudo se resuma a isto: estar junto.
*Este é um texto apresentação da coluna mensal do Marcos Visnadi