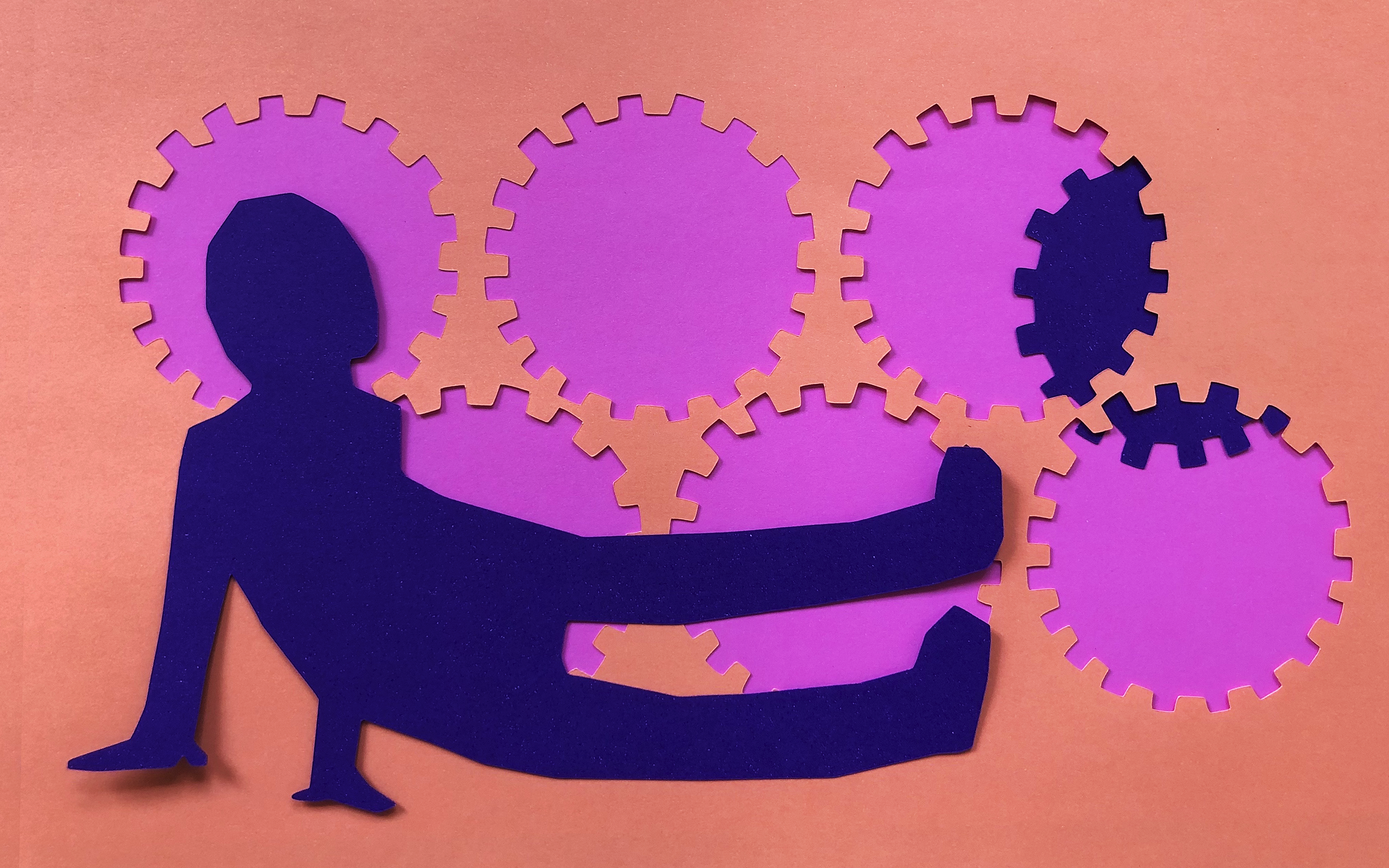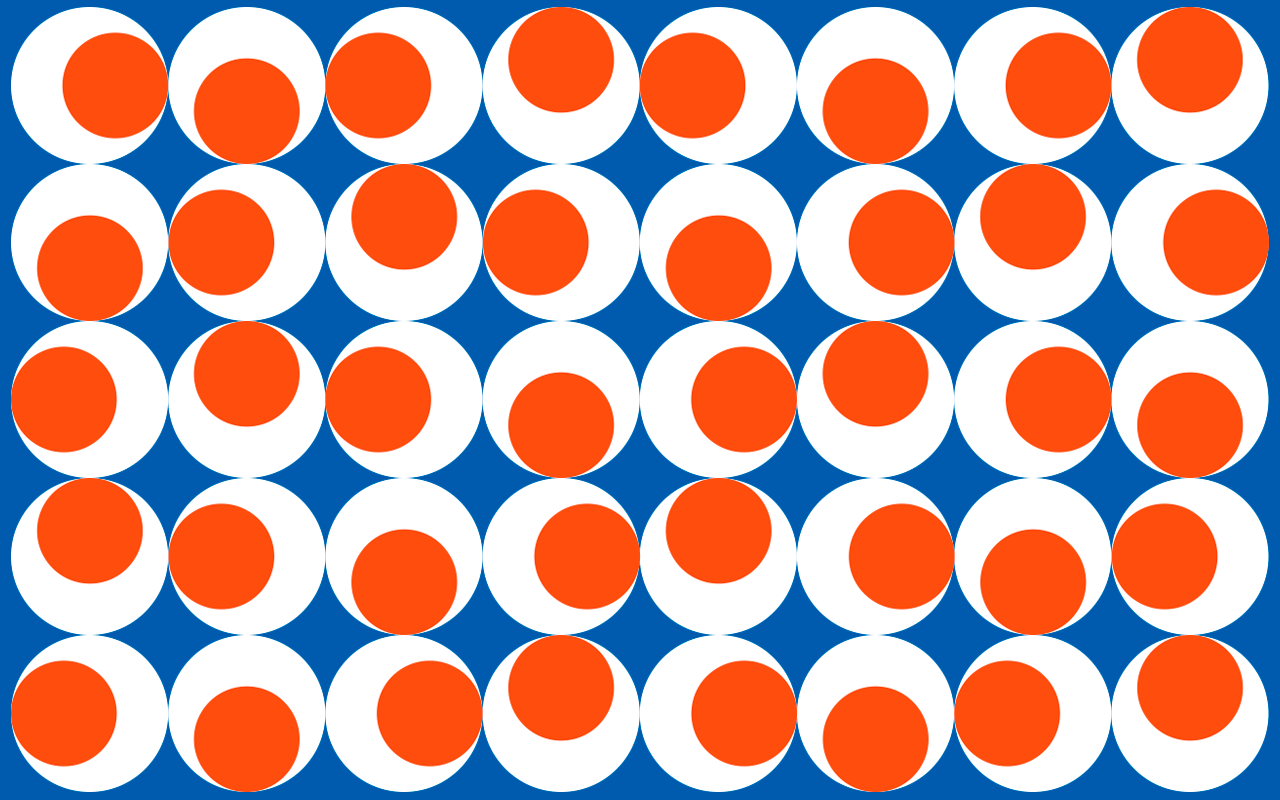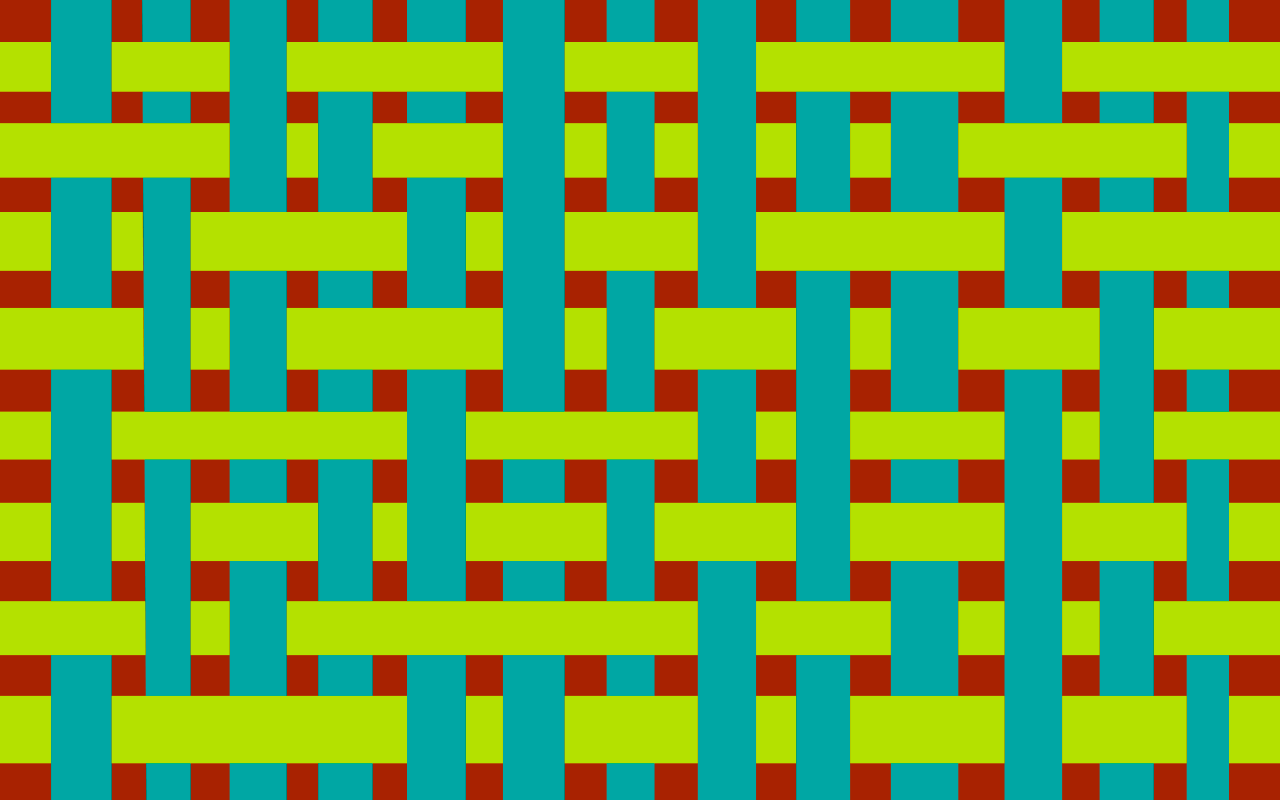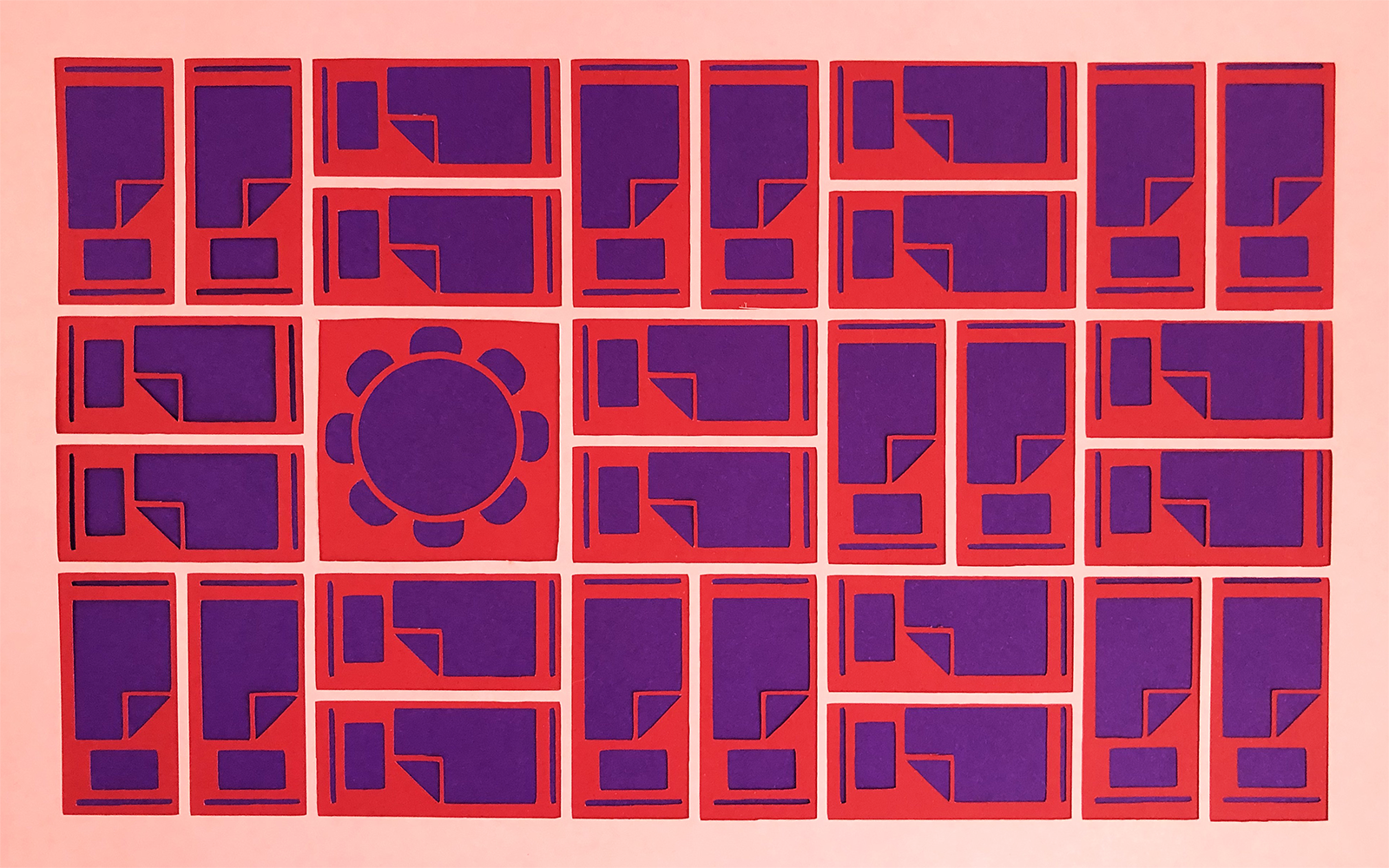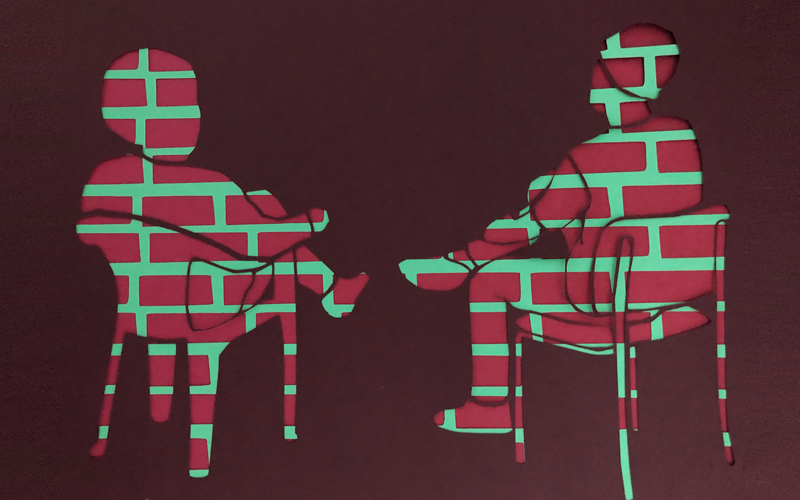Por Lívia Lourenço Dias e Mariana Penteado
Comumente passamos nossos dias imaginando que o que sentimos, sofremos e pensamos responde à nossa realidade individual ou às idiossincrasias do nosso enredo familiar. É conveniente, para a manutenção do status quo e das estruturas de poder, que nos façam acreditar que se algo vai mal é porque não fomos fortes ou não fizemos o suficiente – deveríamos ter aguentado mais.
Os acontecimentos das últimas semanas, no entanto, nos colocam frente à experiência de uma tragédia coletiva. Diante do avanço da pandemia causada pelo coronavírus, a questão da influência da vida econômica e política no bem-estar sobe ao palco das discussões.
A quarentena como principal estratégia de contenção do contágio e proteção da população vem sendo questionada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos donos de grandes empresas sob a justificativa de que o isolamento prejudica a economia. Por outro lado, vemos um aumento da quantidade de pessoas em situação de desemprego por conta dos vínculos precários que foram produzidos pelas reformas do atual governo. Pode-se dizer que esse tipo de violência política é orientada por uma necropolítica, que visa a exploração sistemática e o extermínio de uma parcela específica da população.
O que a quarentena e os discursos com relação à saúde coletiva evidenciaram é apenas a consequência de um modo de sofrimento operante e estrutural presente no neoliberalismo. Os momentos de crise permitem enxergar as rachaduras com clareza, já que a ineficiência de um sistema para gestionar os problemas fica evidente. Percebemos então este sofrimento como parte de uma tragédia coletiva, social e histórica. No entanto, o neoliberalismo como matriz de modos específicos de sofrimento opera de maneira mais ampla e o que observamos hoje é só o efeito de suas quebras.
Mas o que uma teoria econômica pode ter a ver com o sofrimento psíquico?
Sofrimento como fenômeno cultural
O sofrer está estruturado numa rede de referências simbólicas com significados que, embora atualizados individualmente, são essencialmente coletivos.
Entender o sofrimento como um fenômeno sociocultural pressupõe pensar que o sujeito que sofre não existe fora ou antes do social, mas sim que é produzido em cultura e coletividade. O modo como nos relacionamos socialmente determina as maneiras de sofrer e também as maneiras como interpretamos e enquadramos este sofrer. Em resumo, o sofrimento é um fenômeno histórico (Foucault, 1961).
Por conta desses atravessamentos, culturas diferentes contemplam modos diferentes de sofrer e de expressar o sofrimento.
Podemos inclusive observar que as estruturas diagnósticas majoritárias mudam de acordo com a época. Por exemplo, Freud e o foco na histeria não se dissocia da moralidade sexual. A neurastenia definida por Beard se relaciona intimamente à vida da época e ao excesso de trabalho. Após o final da Segunda Guerra se proliferaram relatos de falta de sentido na vida e sensações difusas de inadequação. De maneira muito mais recente, a depressão, o pânico, a anorexia e as auto-mutilações aparecem como modos de expressão de sofrimento mais frequentes.
Essas mudanças nos modos como vemos as pessoas que sofrem e como lidamos com elas não é aleatória, mas sim intrinsecamente relacionada às transformações em nosso modo de vida.
As relações sociais se dão em diversos planos, como a linguagem, os afetos, o trabalho e as instituições. Podemos então dizer que existe uma incidência do trabalho e das instituições na formação da subjetividade. As relações de trabalho, por sua vez, estão intimamente ligadas aos modos de pensar a economia e a vida política em cada época. Nosso contexto é de recrudescimento do pensamento neoliberal e, portanto, precisamos entender qual é esse sujeito produzido em nosso tempo e quais são seus tipos de sofrimento.
Miriam Debieux Rosa, psicanalista e autora de trabalhos que ampliam as discussões sobre o que chama de as dimensões sociopolíticas do sofrimento, articula como “nas catástrofes ditas naturais que, embora aparentemente atinjam a todos, certamente incidem sobre aqueles mais frágeis na organização social e sem recursos para minorar os efeitos da natureza” (ROSA, 2015).
Ora, o que vivemos agora possui alguma relação com o que seriam esses “ditos” efeitos da natureza. Somos acometidos por uma pandemia da qual não damos conta, não temos controle, e essa guerra que hoje tem nome e se chama coronavírus, na verdade só expõe ainda mais as feridas de uma guerra mais violenta e mortal, porém invisibilizada, silenciada, cotidiana, reduzida a expressões corriqueiras e esvaziadas de significado: favelados, moradores de rua, preguiçosos, vagabundos.
Então, se tomamos como possibilidade que o sofrimento também é calcado em uma dimensão sociopolítica, é impossível pensar os fatos recentes que ocorrem no mundo, mas principalmente no Brasil e afastá-los do caos que vivemos hoje.
Michael Löwy, sociólogo brasileiro, conferiu uma entrevista ao blog da Boitempo em 30/05/2016. Passados 4 anos ela se mantém mais atual do que nunca. Na ocasião, ao ser questionado sobre um possível desvio da ordem democrática, disparou: “o que predomina é o Estado de exceção. Na verdade, a democracia é que foi excepcional. […] ela é um peso grande para o Estado, para as classes dominantes e para o capital financeiro. A democracia atrapalha, ela não facilita o trabalho da política capitalista. Por isso a tendência a reduzir o espaço democrático.” (LOWY, 2016 – Entrevista Blog Boitempo).
A conjuntura é perfeita para retomarmos essa discussão e seus efeitos. Walter Benjamin, anos antes já havia dito algo semelhante “a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é a regra.”
Diante disso, como posicionamos o momento em que vivemos? Como pensá-lo e conferi-lo sentido? Do que se trata a exceção que passamos hoje?
Mas já retomaremos esse ponto, ou pelo menos a uma tentativa de trazer algumas questões à tona. Antes, vamos entender o que seria isso que nos conta Löwy sobre o trabalho da política capitalista e neoliberal.
O que é neoliberalismo?
Existem disputas sobre o termo, mas aqui nos referimos à doutrina econômica desenvolvida a partir da década de 70, representada por Pinochet, Thatcher e Reagan e consolidada a partir do Consenso de Washington. Os autores, tanto da escola austríaca (especialmente Hayek) como da escola de Chicago, interpretavam a ascensão dos estados totalitários como possibilitados pela intervenção do Estado na economia. Defendiam, em contrapartida, o estado mínimo, afastado da saúde, da cultura e da educação. Entendiam que a livre concorrência evitaria os monopólios e que todas as áreas deveriam funcionar como se fossem empresas.
Esse pensamento foi acompanhado também de um pacote de medidas práticas no campo político-econômico no âmbito da globalização, como a privatização de empresas estatais, a diminuição do protecionismo nacional e dos subsídios, a reforma tributária e a flexibilização das leis econômicas e trabalhistas.
Tudo isso alterou os modos de produção e as relações de trabalho, mudando também nossa forma de estar no mundo e o que somos enquanto sujeitos.
Como sofre o sujeito neoliberal?
A máxima desse novo sujeito é a ideia de que precisamos nos pensar como uma empresa. As relações de trabalho deixam de se dar através de trocas e de venda de trabalho e passam a ser entendidas como relações de investimento (Dardot e Laval, 2016). O trabalhador deve ser lucrativo para a empresa e o sofrimento, desde que bem administrado, deve servir como força produtiva (Dunker, 2015).
A ilusão de liberdade, advinda da ideia de menor intervenção estatal na economia, gera a crença de que somos livres e que nossa inserção e desempenho na vida laboral depende unicamente de nós. Meus méritos, meu esforço, minha formação seriam os determinantes da minha empregabilidade, do meu valor. Mas sabemos que o sistema depende de uma parcela calculada da população fora do mercado de trabalho. Isso produz um sentimento de fracasso e uma necessidade de que o sujeito faça a gestão desse sofrimento por si.
Essa parcela precisa ser calculada para que seja suficiente para que os salários e as relações de trabalho possam ser mais precários, mas não tão grandes a ponto de gerar problemas que atrapalhem o mercado. A necropolítica e a produção de sofrimento psíquico, portanto, andam juntas. Gerar o extermínio de uma parcela da população para controlar o tamanho da massa improdutiva e reforçar os discursos de gestão empresarial de si propicia as melhores condições para o lucro das grandes empresas. Mão de obra barata e que atua na exploração de si mesma. Afinal, se sou livre e meu desempenho depende somente de mim, então eu mesmo funciono na gestão de explorar minha força produtiva ao máximo, sem a necessidade de uma instância intermediária externa.
Nosso tempo é então instrumentalizado, e tudo que não faz parte desse empreendedorismo de si é passível de culpabilização. O ócio, a fantasia, etc. É muito comum, por exemplo, que o trabalho invada os espaços de lazer.
Todo esse modo específico de sofrer, consequência do neoliberalismo, existe de maneira constante, porém mais silenciosa, ou pelo menos é como quer fazer parecer o discurso político e econômico atual. Pois as cenas de violência, descaso, morte e miséria são a ordem, não a exceção e gritam diariamente em nossos ouvidos. No entanto, são utilizadas como jogo político, como uma pregação vazia de salvadores que nos empurram ainda mais para o caos social.
Não é coincidência a tendência cada vez maior em ocultar a relação entre os modos de vida sócio-política e sofrimento, fortalecendo discursos que entendem o sofrer como uma reação cerebral ou como fraqueza.
E retomando o mote inicial do texto, sobre o coronavírus, pensemos a respeito da proliferação de lives e atividades que tentam dar conta de um sofrimento legítimo, porém individual, que não leva em conta a esfera política e econômica a que somos submetidos e muitos de nós dizimados. Retomando Rosa Debieux, “os excessos em jogo esvaziam a reflexão e o debate político de modo a turvar a lógica dos discursos alienantes.” Talvez responda também a essa culpa do ócio, que não permite sequer que nos apropriemos desta tragédia, tamponando a percepção de sofrimento a todo tempo com produção.
E quando “falha” a autogestão do trabalhador em se culpar, o desespero do capital se deixa ouvir: nos chamam de histéricos e inoculam mais sofrimento a fim de que voltemos a ser produtivos. O discurso é simples: se não voltamos a produzir, seremos os responsáveis pela quebra da economia. Doa a quem doer, morra quem morrer.
Isso já é o corriqueiro, não é a exceção. Talvez a novidade com que nos deparamos com o coronavírus seja quais são essas outras vidas que também estão em jogo nesse momento.
É impossível, ou melhor, no mínimo mais difícil para os grandes detentores do capital ditar nesse momento quem morre e quem vive e manter o status quo de sua necropolítica em voga. Fazer isso é ignorar completamente os fatos, os dados, o conhecimento, a ciência. Isso já não se mostrou improvável em outros tantos momentos, no entanto, agora aparece de forma mais nítida a máquina de produções de mentiras e discursos. Manipular os fatos já não é mais trivial. O vírus assola a todos. Como já citamos anteriormente, terá fatalmente mais impacto nos que já sofrem com o abandono cotidiano. Entretanto, também acomete e acometerá aqueles que ainda gozam de certos benefícios com o laço social operante em nossa sociedade.
Entender de que maneira funciona o neoliberalismo nos permite ouvir com desconfiança esse tipo de declaração e repensar qual modo de vida queremos reconstruir. Não deve ser um trabalho simples, para aqueles que passaram boa parte da vida defendendo a livre regulamentação do mercado e que estão no poder justamente por essa posição, hoje ter de dar o braço a torcer que precisamos do Estado para promover uma sociedade que minimamente se pretende mais justa e igualitária e nesse contexto, possível.
Referências e Leituras adicionais:
Bauman, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
Debord, G. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997
Dardot, Pierre; Laval, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo, 2016.
Dunker, C. Mal-estar, sofrimento e sintoma. São Paulo: Boitempo, 2015.
Foucault, M. A História da Loucura na Idade Clássica (1961). 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.
Freud, S. (1996i). O mal-estar na civilização. In S. Freud. Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud (vol. 21). Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1930).
Hayek, F .A. O caminho para a servidão. 5. ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990.
Kehl, M. R. (2009). O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo, SP: Boitempo.
Rosa, M. D. Psicanálise, política e cultura: a clínica em face da dimensão sócio-política do sofrimento. 151 f. Tese (Livre Docência) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. 3. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018.
SAWAIA, B.B. As artimanhas da exclusão – análise psicossocial e ética da
desigualdade social. Petrópolis. Vozes.2001.
https://blogdaboitempo.com.br/2016/05/30/michael-lowy-o-estado-de-excecao-predomina-a-democracia-e-que-foi-excepcional/ Pesquisado em 02/04/2020 as 17:56
******
Sobre as autoras:
Lívia Lourenço Dias é psicanalista formada pelo Instituto Sedes Sapientiae. Atua nas áreas clínica e social. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde do Centro de Acolhida e Cultura Casa 1 e da Clínica Social Casa 1
Mariana Penteado é psicóloga formada pela USP. Atua nas áreas clínica e social. Colabora com o Centro de Acolhida e Cultura Casa 1 no Grupo de Trabalho de Saúde Mental e na Clínica Social
Ilustração: Bruno Oliveira